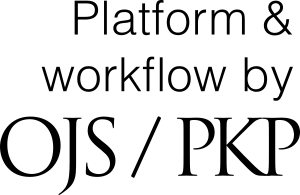Qualis
Enviar Submissão
Palavras-chave
Informações
RPGE– Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, Brasil e-ISSN: 1519-9029
A1 (2021-2024)
DOI: 10.22633/rpge

Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara, Unesp
Departamento Ciências da Educação
Rodovia Araraquara-Jaú, km 1
Caixa Postal 174 – CEP 14800-901
Araraquara – SP – Brasil