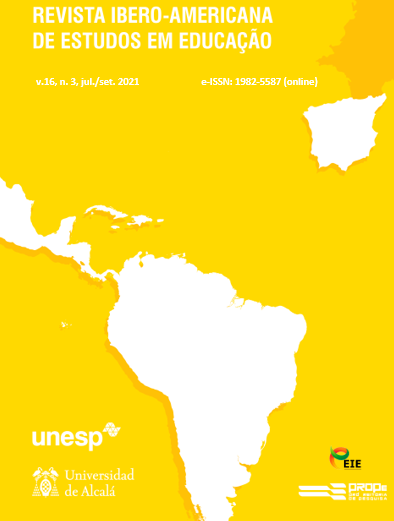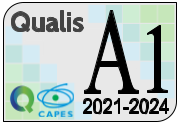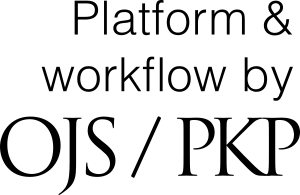Seguindo os traços da episteme moderno/colonial no Documento Curricular do Estado do Pará
DOI:
https://doi.org/10.21723/riaee.v16i3.13277Palavras-chave:
Episteme moderno/colonial, DCEPará, Estrutura disciplinar, Homogeneização cultural, Desobediência epistêmicaResumo
Este artigo tem como objetivo seguir alguns traços da episteme moderno/colonial presentes no Documento Curricular do Estado do Pará - DCEPará. O aporte teórico é o do giro decolonial com Mignolo (2003, 2005, 2007, 2008, 2014), Castro-Gómez (2007a, 2007b, 2014), Palermo (2014), e dos estudos curriculares com Silva (1999), Macedo (2014, 2015) e Lopes (2004). A etnografia multilocal, constitui a arte do fazer, um procedimento emergente e contestado, mas produtivo para a análise de documentos (MARCUS, 2001). Os resultados indicam que no DCEPará há muitos traços da episteme moderno/colonial, entre os quais a estrutura disciplinar e a homogeneização cultural. Os agentes estatais desviaram a atenção destes traços, disseminando uma retórica pedagógico-cultural crítica que defende a prática interdisciplinar, a diversidade e a participação. Concluo argumentando que a desobediência epistêmica é capaz de produzir uma política do conhecimento outra, orientada pela política do lugar, pela transdisciplinaridade e pela interculturalidade.
Downloads
Referências
ABRAMS, P. Notas sobre la dificultad de estudiar el estado. In: ABRAMS, P.; GRUPTA, A.; MITCHELL, T. (Eds.). Antropología del estado. México: FCE, 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018.
CASTRO-GÓMEZ, S. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da invenção do outro. In: LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais 1- perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005a.
CASTRO-GÓMEZ, S. La Hybris del punto cero: ciencia, raza y ilustración en la nueva granada (1750-1816). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005b.
CASTRO-GÓMEZ, S. Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (comp.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.
COSTA, M. V. Currículo e política cultural. In: COSTA, M. V. (org.). O currículo: nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A,1998.
FRANCO, S. A. P. O cânone literário no material didático do Ensino Médio. 2008. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_sandra_aparecida_pires_franco.pdf Acesso em: 05 out. 2019.
GABRIEL, C. T. Quando “nacional” e “comum” adjetivam o currículo da escola pública. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 9, n. 17, p. 283‐297, jul./dez. 2015.
LOPES, A. C. Porque somos tão disciplinares? Educação Tempo Digital, Campinas, v. 9, n. esp., p. 201-212, out. 2008.
LOPES, A. C. Itinerários formativos na BNCC do Ensino Médio: identificações docentes e projetos de vida juvenis. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 13, p. 59-75, jan./maio 2019.
LOPES, A. C. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos? Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 26, maio./jun./jul./ago. 2004.
MACEDO, E. Base Nacional Comum para currículos: direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para quem? Educ. Soc., Campinas, v. 36, n. 133, p. 891-908, out./dez. 2015.
MACEDO, E. Base Nacional Curricular Comum: novas formas de sociabilidade produzindo sentidos para educação. Revista e-Curriculum, São Paulo, v. 12, n. 03, p. 1530-1555 out./dez. 2014.
MARCUS, G. Etnografía en/el sistema mundo: el surgimento de la etnografia multilocal. Alteridades, Ciudad de México, v. 11, n. 22, p. 111-127, 2001.
MARCUS, G.; FISHER, M. La antropología como crítica cultural: um momento experiemental en las ciencias humanas. Buenos Aires: Amorrortu Editories S.A., 2000.
MIGNOLO, W. Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
MIGNOLO, W. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade. In: LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
MIGNOLO, W. La idea de America Latina: la herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa, 2007.
MIGNOLO, W. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. Revista Gragoatá, n. 22, p. 11-41, 2008.
MIGNOLO, W. Retos decoloniales, hoy. In: BORSANI, M. E. B.; QUINTERO, P. (comp.). Los desafíos decoloniales de nuestros días: pensar en colectivo. 1. ed. Neuquén: EDUCO/Universidad Nacional del Comahue, 2014.
MUZZOPAPPA, E.; VILLALTA, C. Los documentos como campo: reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. Revista Colombiana de Antropología, Bogotá, v. 47, n. 1, p. 13-42, 2011.
PALERMO, Z. Irrupción de saberes “otros” en el espacio pedagógico: hacia una “democracia decolonial”. In: BORSANI, M. E. B.; QUINTERO, P. (comp.). Los desafíos decoloniales de nuestros días: pensar en colectivo. 1. ed. Neuquén: EDUCO/Universidad Nacional del Comahue, 2014.
PARÁ. Conselho Estadual de Educação. Documento Curricular do Estado do Pará. Belém: CEE, 2018.
RIBEIRO, J. O. S. Produção generificada do brinquedo de miriti: marcas de colonialidade. Revista Cocar. Belém, v. 13, n. 25, p. 136-159, jan./mar. 2019.
SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.
TIRIBA, L.; FLORES, M. L. R. A educação infantil no contexto da base nacional comum curricular: em defesa das crianças como seres da natureza, herdeiras das tradições culturais brasileiras. Debates em Educação, Maceió, v. 8, n. 16, jul./dez. 2016.
WALLERSTEIN, I. Análisis de sistemas-mundo: una introdución. Buenos Aires: Seiglo Vintiuno editores, 2004.
WEBER, M. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. São Paulo/Brasília: Editora UnB, 1999. v. 2.
ZABALA, M. E. Hacer estudios etnográficos en archivos sobre hechos sociales del pasado. La reconstrucción de la trayectoria académica y religiosa de Monseñor Pablo Cabrera a través de los archivos de la ciudad de Córdoba. Tabula Rasa, Bogotá, n. 16, p. 265-282, jan./jun. 2012.
ZARIAS, A. Os tempos da etnografia, da pesquisa em arquivos e processos judiciais. In: QUANDO O CAMPO É O ARQUIVO: ETNOGRAFIAS, HISTÓRIAS E OUTRAS MEMÓRIAS GUARDADAS, 2004, Rio de Janeiro. Anais [...].. Rio de Janeiro: CPDOC/LAH/IFCS/UFRJ, 2004.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Manuscritos aceitos e publicados são de propriedade dos autores com gestão da Ibero-American Journal of Studies in Education. É proibida a submissão total ou parcial do manuscrito a qualquer outro periódico. A responsabilidade pelo conteúdo dos artigos é exclusiva dos autores. A tradução para outro idioma é proibida sem a permissão por escrito do Editor ouvido pelo Comitê Editorial Científico.